Pedro Antonio Dourado de Rezende
Brasília, 2006
Anexo 6
Confissão Pública
Referência: Jornais e Portais na internet de grande circulação, entre Outubro e Novembro de 2003
Nota sobre direito autoral: As obras aqui replicadas o são com autorização implícita ou explítica dos autores
Anatomia de uma fraude à Constituição
Anexo 6.1 - Matéria do Correio Braziliense de 10.10.03

A.6.1 (acesso on-line restrito a assinantes)
Síntese dos anexos
Anatomia de uma fraude à Constituição
Anexo 6.2 -Matéria da Folha on-line publicada no portal Academus em 31/10/03
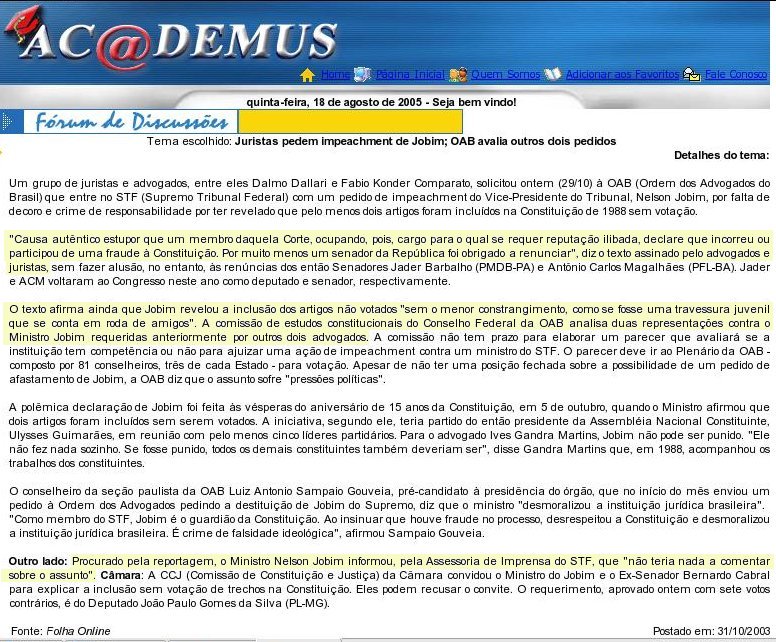
A.6.2 (clique para acessar o original)
Síntese dos anexos
Anatomia de uma fraude à Constituição
Anexo 6.3- Matéria da Agência Estado publicada no portal Estadão em 10/11/03
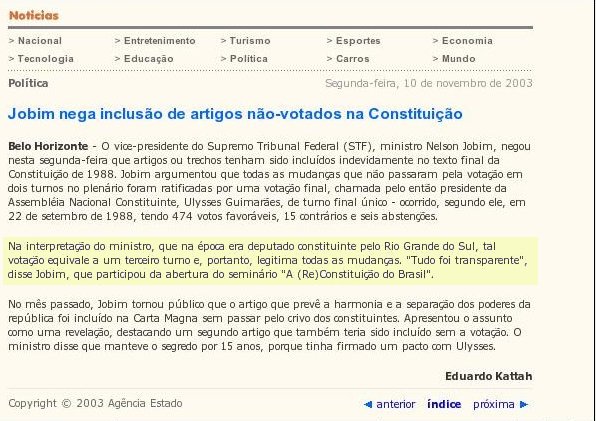
A.6.3 (clique para acessar o original)
Síntese dos anexos
Anatomia de uma fraude à Constituição
Anexo 6.4 - Artigo publicado no Observatório da Imprensa em 11.11.03
CARTA MAGNA Quinze anos sem corte constitucional Marco Aurélio Dutra Aydos (*) I Poucos dias após o escândalo proporcionado pelo Ministro Nelson Jobim, que desta vez para comemorar os 15 anos da Constituição do Brasil esmerou-se em confidências perigosas, revelando solenemente ter fraudado a soberania popular em conchavos de gabinete que introduziram artigos não votados na Constituição de 1988, Clóvis Rossi, prestigiado articulista da Folha de S.Paulo, inaugurou a discussão pública sobre o episódio já com uma sentença de "extinção do feito sem julgamento de mérito". Em saída tangencial que absolve gloriosa e astuciosamente o autor da fraude e condena a vítima, Rossi alterou o foco do escândalo para ironizar a defesa da Constituição que fez Maurício Corrêa, Presidente do Supremo, como exemplo de inépcia, aos olhos do jornalista: "Se houvesse Prêmio Nobel para o pensamento jurídico, desconfio que ele não seria atribuído a Maurício Corrêa, na discutível hipótese de que se candidatasse". Isso porque Maurício Corrêa afirmou, na tentativa de tornar o escândalo uma bazófia inconseqüente, que "tudo está sepultado pelo tempo". A solução de Rossi pode ser lida como a saída conservadora de rotina diante dos escândalos. Culpada é de novo a eterna inépcia do povo, sempre pedindo para ser enganado. Fernando Henrique usou e abusou dessa saída, só que nos tinha por atrasados. Somos todos iguais, e o Ministro Jobim não é senão esse fenômeno de brasilidade, caracterizada pelo dito de que o "Brasil não é sério", subscrito por Rossi como "razão de decidir" (a opinião de Rossi é um verdadeiro julgamento, e a analogia com a retórica forense não está fora de lugar). Estava certo, segundo Rossi, o general De Gaulle, "a quem se atribui a tardia descoberta de que o Brasil não é um país sério" (Clóvis Rossi, "O Brasil é uma fraude", em Folha de S.Paulo, Opinião, 10-10-2003). A rapidez com que se produz o jornalismo presta-se a esses juízos apressados. Se for tudo culpa da pressa, podemos ser mais condescendentes com Rossi e desconsiderar a opinião como "saída conservadora" de absolvição do Ministro Jobim, para recebê-la como retrato aproximado, feito no calor do momento, do estado de choque moral da opinião pública diante do escândalo. Nesse segundo sentido, que privilegiamos pelo benefício da dúvida, Clovis Rossi tem o mérito de abrir o debate público em torno ao escândalo, retirando-o da "rotina" como apenas mais uma notícia, para que possamos discuti-lo em sua dimensão moral e política. Fazendo isso, já contrariamos a descrição do general De Gaulle, afirmando que há mais gente séria do que sempre esperam os enganadores. A reação imediata ao estado de choque moral é de desânimo. Quando se pensa começar uma jornada de reconstrução do país, temos que parar para mais um "choque de realidade". A palavra usada pelo presidente Lula ao assumir o governo será uma constante na reconstrução do Estado: precisamos incorporar à tarefa de reconstrução esses constantes choques de realidade, para não resolver falsamente os problemas, em soluções pouco realistas, de panacéia, decreto ou de mídia. Se abrirmos mão de refletir sobre os "choques de realidade" estaremos incorporando o escândalo à rotina, e deixando de tentar achar saídas para consertar a herança de fraudes recebida. Nesse sentido positivo, a sentença de Rossi é apenas o primeiro movimento do debate, e não sua apoteose. Aos que preferem enfrentar a realidade a ser enganados por ela, o "choque de realidade" é uma terapia duríssima, mas etapa da cura que não permite que nos acomodemos à doença crônica. O Poder Judiciário do Brasil faz parte da doença, e se queremos compreendê-la teremos de discutir em público seus sintomas. A frase atribuída a De Gaulle talvez seja ela mesma uma enganação. Ela não explica e não justifica nada, apenas legitima a enganação, que faria parte da "natureza humana". Em geral as condenações da "natureza humana" prestam-se a soluções conservadoras ou niilistas. A "natureza humana" enquanto tal não interessa à política, porque aqui se precisa de um arranjo social artificial em que até mesmo uma "raça de diabos" seja obrigada a conviver de modo civilizado (na expressão de Kant). Condenações de nossa natureza perdem de vista a condição histórica. Submeter a natureza à reflexão histórica pode ser motivo de desilusão, mas esta pode ser o primeiro passo do esclarecimento. A esse presente "eterno" da descrição antropológica da natureza brasileira, queremos somar passado e futuro. Dizer "o Brasil é uma fraude" é banal. Não diz quando começou, não diz se vai ser assim para sempre. A história é feita de personagens diversos, com responsabilidades diferentes. Perguntar qual desses personagens é mais responsável pela fraude de hoje não causa tanto desespero, porque indica um caminho de resistência. É preciso demolir também esse "universal empírico" da descrição da nossa natureza para tratá-lo como universal normativo, resumido na pergunta "aonde vamos?" O país quer seriedade, e talvez seja possível encontrar tantas provas disso quanto da descrição de que somos uma fraude. A dimensão histórica sugere analogias mais dinâmicas, que contêm o elemento temporal, como por exemplo: 1. O Brasil da fraude não se aposentou, mas já tem suficiente tempo de serviço para recolher-se à inatividade. 2. O governo do Brasil era uma grande fábrica de fraudes. 3. O Brasil não é (ainda) sério porque muita gente não quer, e ainda passa bem enganando os outros. E assim por diante. No geral, a crítica dura de Rossi tem o mérito de incluir o Poder Judiciário no Brasil que é uma fraude. Já passou da hora de fazermos essa "inclusão". É preciso cuidado para evitar as soluções "decretadas" para resolver no papel os problemas, como as que estão sempre envoltas na "síndrome do conselho". Rápido demais os conselhos reproduzem a fala viciada que deviam corrigir, às vezes até por inércia, e duplicam o problema. Mas antes de seguir no diagnóstico desse Poder que, na frase de João Mangabeira, "mais faltou com a República", queremos registrar que a crítica de Rossi no escândalo Jobim cometeu o pecado duplo de ser injusto com Jobim, pela absolvição indébita do fraudador confesso, e injusto com o Presidente do Supremo, Maurício Corrêa, que na guarda da Constituição tentou minimizar o escândalo. Rossi não compreendeu politicamente o gesto que criticou, e perdeu de vista a dignidade que ele representou. II Ao contrário do que sugere a crítica de Rossi, o episódio da Constituição impostora, se não é mais do que outra exteriorização pública do escândalo cotidiano que é a presença de Nelson Jobim no Supremo Tribunal Federal, representa uma postura de "defesa da Constituição" que, para o Presidente do STF Maurício Corrêa, é suficiente em termos de dignidade política para obscurecer quaisquer faltas que tenha praticado na jurisprudência, por falta de intimidade com algumas matérias (o que, pelo menos em matéria criminal, não é privilégio seu). Por isso a opinião de Clóvis Rossi, sobre o episódio, registra o exato oposto do que ele de fato representa. Maurício Corrêa rebateu uma ofensa grave, originária de quem deveria ter uma certa "afeição" constitucional. O que Clóvis Rossi não percebeu é que aqui não se estava diante de uma controvérsia jurídica, mas de uma questão de afirmação de dignidade política. Nesse particular, Corrêa teve a dignidade que o cargo e o momento lhe exigiam, e percebeu muito bem o que significa para um Estado moderno a sua "Constituição". Ela é o fundamento necessário de preservação da democracia num universo que já não oferece "fundamentos" sólidos. A liberdade, fundamento da modernidade, é algo que se esvai no ar e por isso tem que ser "conservada" em cláusulas constitucionais mais rígidas do que a legislação ordinária, passível de modificação por maiorias ocasionais. Ao afirmar que não interessa mais como a Constituição brasileira veio ao mundo há 15 anos atrás, Corrêa esteve em melhor companhia do que imagina Rossi. Hegel, o primeiro grande filósofo a dar forma abstrata e conceitual ao Estado moderno em sua Filosofia do Direito, diria exatamente o mesmo. Em seu vocabulário, a constituição é uma necessidade racional em si e para si, e se veio ao mundo originariamente por força, violência ou fraude, nenhum desses pecados originais retira sua validade e existência como algo racional. À pergunta sobre quem deva escrever a constituição, Hegel responde dizendo que é uma pergunta sem sentido, porque é absolutamente essencial que a constituição venha ao mundo. Ela deve até ser considerada como se fosse um pouco divina (Filosofia do Direito de Hegel, § 273 e adições, consulto edição em inglês traduzida por Knox). Tem razão Maurício Corrêa ao dizer que as declarações de Nelson Jobim são desprovidas de sentido e não afetam a necessária existência da Constituição brasileira. Corrêa aposenta-se em breve, o que o torna mais simpático e aconselha que será melhor lembrá-lo por esse gesto grandioso do que percalços com a técnica jurídica ou declarações a respeito de corrupção no Judiciário, que buscam nitidamente influenciar a apuração da verdade criminal ao exigir que os suspeitos continuem no exercício dos cargos, ao argumento de que o Judiciário estaria "constrangido em ter juízes federais corruptos". Há que se dizer "sinto muito, Ministro". Pode ser difícil retirar bandido do Judiciário, mas não pode ser impossível. Além da saudável indignação com a confissão, pelo Ministro Jobim, de que possui um caráter inconstitucional e não adquiriu jamais a condição subjetiva exigida pela Constituição para integrar o Supremo Tribunal Federal, a opinião pública informal, juridicamente esclarecida, manifestou certa satisfação, como aquele da vítima que durante anos procura o autor do crime e finalmente o encontra. E, ainda melhor, por confissão espontânea. Que a Constituição havia sido defraudada desde a origem, sabíamos todos os que lemos os comentários de José Afonso da Silva, a respeito do modo ardiloso com que se insinuou no texto constitucional a matéria nada inofensiva da "medida provisória". "As medidas provisórias não constavam da enumeração do art. 59, como objeto do processo legislativo, e não tinham mesmo que constar, porque sua formação não se dá por processo legislativo. São simplesmente editadas pelo Presidente da República. A redação final da Constituição não as trazia nessa enumeração. Um gênio qualquer, de mau gosto e ignorante, e abusado, introduziu-as aí, indevidamente, entre a aprovação do texto final (portanto depois do dia 22.9.88) e a promulgação-publicação da Constituição no dia 5.10.88" (José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. P. 452). Precisamos de 15 anos para descobrir quem foi o gênio de que falava José Afonso da Silva. Encontrá-lo no Supremo Tribunal Federal é que não foi surpresa feliz. Antes, causa de espanto que chega a fazer a gente se perguntar: será que o Brasil não é mesmo uma grande fraude? III Como e por que acontecem as fraudes? Que soluções se mostram possíveis para o "começo de conserto" do Estado que institucionalizou a fraude como conduta peculiar e conduziu impostores ao Supremo Tribunal Federal com o propósito explícito de lutar contra a Constituição? Do Brasil que "não é uma fraude" já surgem provocações para a retomada da dignidade do cargo da mão dos que abusam da Constituição. Devia haver um tipo penal que dissesse que um Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode atentar reiteradamente contra a dignidade da Constituição, e nesse caso o "escândalo" Jobim seria apenas o último caso ilustrativo de uma conduta permanente. Na falta do tipo mais específico, com certeza é quebra de decoro a permanência do Ministro Jobim no Supremo Tribunal FEderal. Antes mesmo de que seja formalmente denunciado, seria melhor que renunciasse, o que é mais digno. A questão não é punir o deputado constituinte Nelson Jobim por fraudes que praticou há 15 anos, mas afastá-lo do Supremo hoje porque enganou a soberania nacional quando se apresentou como candidato a Ministro do Supremo Tribunal Federal como se fosse um cidadão de reconhecida idoneidade. A conduta fraudulenta que foi confessada demonstra que o Ministro não é pessoa idônea, e essa qualidade é permanentemente ofensiva, e por isso não é esquecida pela prescrição. A confissão sobre a fraude de 15 anos é confissão de que o Ministro é portador de um traço de caráter inconstitucional que não tem meios de convalescer. Agora, perguntar sobre o que tornou possível a presença de Nelson Jobim no Supremo Tribunal Federal e se o mandato vitalício que lhe conferiu Fernando Henrique foi passado como mandato imperativo de fidelidade ao projeto político do presidente que o nomeou, exige compreensão histórica da política brasileira recente e do próprio Supremo Tribunal, que não apresenta uma história linear e contínua, mas fragmentada por duas grandes rupturas: a ruptura militar em 1964 e o projeto de Estado constitucional planejado em 1988. IV A percepção da Constituição de 1988 como o projeto de um Estado de bem estar social fundado nos direitos individuais (liberais) e sociais (democráticos), contra o qual as forças da reação se preocuparam apenas com as "medidas emergenciais", sugere uma proximidade espiritual muito grande com a Constituição alemã republicana de Weimar, e é a partir dessa semelhança espiritual que tentamos compreender a vida política brasileira recente. O Partido dos Trabalhadores, que chega ao poder em 2003, tem, por seu turno, desde o seu nascimento, uma conformação semelhante aos partidos alemães de "concepção de mundo", e até uma certa semelhança espiritual com o SPD (Partido da Social-Democracia) alemão. Depois da fraudulenta introdução das "medidas provisórias" no texto final da Constituição, possuía a reação arsenal jurídico suficiente para governar. Faltava escolher candidato a titular desse projeto. É aqui que surge a figura de Fernando Collor de Mello. Apesar de já ser parte da "história", não ficou até hoje claro em termos conceituais qual tipo de violência caracterizou o projeto político de Collor. A literatura da "transição democrática" contribuiu bastante para essa obscuridade. Sobre a origem do projeto Collor, temos suficientes indicações em obra de René Dreifus: as forças civis que criaram, nutriram financeira e ideologicamente, com todos os milagres da propaganda travestidos de informação, e guiaram Fernando Collor à presidência da República, em 1989, foram quase idênticas àquelas que armaram, daquela vez em segredo e com a ajuda do serviço de inteligência norte-americano, o golpe militar de 1964 (cf. René Dreifus, O Jogo da Direita na Nova República. Petrópolis: Vozes, 1989, pp. 249 e ss.). É verossímil que as forças políticas da direita pretendessem valer-se de Collor como seu fantoche, e manipulá-lo para dominar a esquerda que literalmente escrevera a Constituição de 1988, exceto a parte defraudada (mais ou menos o mesmo golpe intentado pelos junkers alemães e ultraconservadores de direita quando tentaram usar Hitler contra a Social-Democracia, sob o pretexto de evitar o mal pior, o Bolchevismo), sem contar com o imprevisto de que a criatura se voltasse contra o criador e quisesse ganhar vida própria. V Qual a essência de Fernando Collor? A primeira indagação é se o governo Collor apresenta algum traço essencial distinto do restante da história política brasileira. É possível compreender que Collor instaura uma forma nova de poder, fundado numa violência essencialmente diferente daquela do autoritarismo militar. Na intuição de que a legitimação autoritária de nosso tempo também se constrói pelos consensos rápidos, proporcionados pela mídia na sociedade de massas (uma legitimação performático-autoritária), Collor construiu sua imagem a partir de "citações": citou um pouco Jânio Quadros, principalmente a figura da vassoura que varreria a corrupção, recriada como o "caçador de marajás", e a forma de comunicação informal dos "bilhetes" e das mensagens nas "t-shirts", camisetas que usava, como jovem saudável, para a prática de esportes. Citou Perón, em seu apelo aos descamisados. Como no fundamentalismo pós-moderno, que movimenta os subterrâneos sociais a partir de "citações" da tradição religiosa, Collor especializou-se em liderar o povo sobre a base de emoções de massas. Nessa estratégia demagógica particular, operava com relativa competência o que Francisco de Oliveira chamou com propriedade de "falsificação da ira" (Francisco de Oliveira, Collor - A Falsificação da Ira. Rio de Janeiro: Imago, 1992). Examinando o fenômeno Collor ao mesmo tempo da ocorrência dos eventos, Francisco de Oliveira chamou-o de "Bismarck das Alagoas". A analogia sugere um parentesco espiritual com a história alemã, que também estamos explorando, mas hoje, com mais distância, essa imagem não seria a mais adequada. Collor foi incompetente para ser o que Bismarck fez de si: um negociador autoritário que previne, em benefício das direitas reacionárias, a subida da esquerda ao poder. Se Collor teve algum parentesco mais próximo com alguma figura histórica, foi com toda a certeza com a do Führer, e não com a de Bismarck. Noutro local, Francisco de Oliveira avalia o governo Collor como uma tentativa de governo totalitário, com mais razão. A disputa que levou Collor à presidência da República foi marcada pela prova eleitoral do Partido dos Trabalhadores, fundado há menos de uma década conforme a tradição alemã de partidos de "concepções de mundo". Contra a candidatura de Lula, as forças da direita articularam-se rapidamente para o sucesso eleitoral valendo-se das massas não-organizadas, e de preferência de um candidato sem passado político. "As próprias tentativas de lançamento das candidaturas de Jânio e Sílvio Santos mostram a percepção que o empresariado - que tentou patrocinar Jânio - e políticos conservadores - Sarney que lançou Sílvio Santos - tinham da disputa eleitoral: somente elementos desse tipo tinham chance, do lado conservador e de direita, na disputa" (Francisco de Oliveira, Ob. Cit. P. 24). Collor não se enquadra no modelo autoritário, sempre um governo de hierarquia rígida e estrutura piramidal, de que o melhor exemplo é a Igreja Católica. Collor dispensava mediações, porque qualquer corpo mediador, na política, fala linguagem democrático-liberal. Collor pretendia ser o Führer de sua gente, dispensando partidos, políticos de profissão, qualquer órgão da sociedade civil. Desde o início de sua campanha eleitoral, falava diretamente ao povo. Minha gente, sua expressão de palanque, parecia ecoar a relação com as massas do autor de Minha Luta, do início do século 20. Tal como Adolf Hitler, fundador de partido de um homem só, Collor apostou tudo na retórica anti-parlamentar, atacando o espaço privilegiado onde vivem os políticos de profissão, aos quais é debitada a corrupção. Como anotou Francisco de Oliveira: "Não foi a marca neoliberal que construiu seu êxito junto aos descamisados: antes, foi a investida contra o sistema político-partidário (...) denunciando os corruptos, as mazelas sociais vistas não do lado da desigualdade na distribuição de renda e da violência no processo de acumulação, mas do lado da ineficácia do Estado (...) [Collor] "Procurou, desde logo, distanciar-se e distinguir-se dos políticos (...) também de qualquer outro tipo de elite, criando em torno dele e sobre ele, a aura de um isolado cavaleiro andante, contra tudo e contra todos" (Ob. Cit. P. 48). A comparação de Collor a Bismarck não é de todo acertada. Pois Collor desprezava até mesmo os canais de poder que Bismarck permitia, a fim de conciliar, negociar, e manter-se no poder. "Atropelando todas as instituições da vida política civil, passando por cima de todas as representações e mediações da sociedade, ele é, antes de tudo, totalitário. Mais que autoritário" escrevia com mais acerto Francisco de Oliveira. Collor não foi um líder autoritário, nem um ditador de tipo militar, mas antes um projeto falido de ditadura totalitária, tornado cômico pelo espírito democrático revigorado pela lembrança recente de libertação, desde a tomada das ruas em 1984, na campanha pelas Diretas, até a constituição de 1988. O fato de que tenha encerrado carreira cedo como um Tartufo reforça a idéia de que o espírito democrático no ar estava mais aceso do que noutros períodos da história, mas não o desqualifica como projeto de ditador totalitário Agnes Heller escreve, a propósito, que: "Uma pessoa cujos desígnios malignos falham, cujos atos maus se frustram, torna-se uma figura cômica. Instituições completamente democráticas imbuídas de um sentimento democrático vigoroso poderiam transformar um Ricardo III num Tartufo. Este era o plano utópico de Lessing em Nathan, o Sábio. O prelado que fanaticamente exige que todos os judeus sejam queimados é uma figura cômica, simplesmente porque ninguém o escuta" (Agnes Heller, General Ethics. New York: Blackwell, 1988. P.174). Contribuiu para o fracasso de Collor sua própria incompetência política (afinal o Brasil não era tão pequeno quanto Alagoas) e o deslumbramento com o mundo fictício que, aos poucos, foi construindo à sua volta. A essência de Collor pode resumir-se num único ato seu, que é o confisco da caderneta de poupança, denominado Plano Econômico de Indisponibilidade Transitória de Ativos Financeiros, que foi defendido com razões de algum verniz jurídico pelo jurista Gilmar Mendes. Como os alemães que perderam a República de Weimar para Hitler compreenderam bem, sofisticados juristas fazem milagres. Fernando Henrique precisou cumprir, por Collor, o papel de que este não se desincumbira bem e resgatar Gilmar Mendes do papel de articulador jurídico do governo inconstitucional de ambos para o Supremo Tribunal, a fim de lá permanecer como representante desse projeto, caso um dia perdesse o poder. VI Se Collor amolda-se à personalidade do Führer, é Fernando Henrique quem reencarna o Chanceler de Ferro que forjou a "política do possível" (divisa de que, por coincidência ou não, Fernando Henrique se apropriou), e que antecedeu à República de Weimar. O gênio de Fernando Henrique foi o de perceber o erro de Collor e cumprir o mesmo projeto de uma forma autoritária essencialmente diferente, como a de Bismarck. Se é possível admitir, como faz o historiador Peter Gay, que sempre existiram duas Alemanhas, a de Goethe, da poesia e da filosofia humanista, de um lado, e a de Bismarck e da "via prussiana", de abjeta submissão à autoridade e agressividade com o estrangeiro ou inimigo interno, de outro, a República de Weimar tentava encarnar na política a primeira. Mas a herança era grave. Sobretudo porque a Alemanha guilhermina, sob a batuta de Bismarck, conseguiu ser autoritária sem ser uma ditadura (cf. Peter Gay, Weimar Culture- The Outsider as Insider. New York: Harper, 1970. 205pp. Aqui pp. 1 e 3). Uma das heranças negativas que pesou contra a Alemanha de Weimar foi a lenda do "bom ditador" encarnada em Frederico II, que deu ao povo alemão a "idéia de que grandes homens devem realizar grandes ações, que o mágico pode fazer o que quiser, e que não há necessidade de atentar para seus métodos desde que ele continue com sucesso" (daqui em diante nosso retrato de Bismarck é baseado fortemente na História da Alemanha desde 1789, de Gollo Mann, The History of Germany since 1789. Trad. Marian Jackson. New York, Washington: Praeger, 1968. 547pp). Herdeiro do mito do sucesso, Otto von Bismarck, que se autodenominou em fim de carreira o "Chanceler de Ferro", o homem da "política do possível", representa nesta história o papel de figura de ponta de um autoritarismo civil cujo "sucesso" confunde-se com a maneira astuciosa através da qual o líder mantém-se no poder, ao mesmo tempo em que negocia concessões, conseguindo promover, em meio às maiores convulsões sociais, "uma ordem tolerável que reinou por quarenta anos na Europa Central e Oriental". O Estado de Bismarck pode ser resumido numa "combinação de autoritarismo na esfera política e liberalismo econômico". O Parlamento funcionou, a Social Democracia nasceu debaixo do Império de Bismarck e sobreviveu a ele. Aos trabalhadores, Bismarck concedeu um sistema de seguridade social. E assim, mediante concessões às classes médias (em especial a seguridade social) e compromissos aceitáveis às classes dominantes, fazia a revolução antes que o povo a fizesse, como o Estado Novo no Brasil. O tão falado "gênio" de Bismarck no poder, segundo Gollo Mann, consistia tão somente em "absoluto senso comum, coragem e crueldade". Sabia aproveitar as oportunidades e manipular a vida política para que tudo parecesse decorrer de seu mérito de estadista. A unificação alemã, famosa por ser "obra de Bismarck", por exemplo, deve ser compreendida dentro de uma narrativa histórica mais ampla, pois a Alemanha vinha-se unificando já havia cinqüenta anos. O fato novo é que a unificação, o sonho das classes médias, pudesse ser articulada sem estas, por príncipes e generais, e deixando de lado os elementos com que estava associada, entre eles o parlamentarismo e a democracia. O termo Realpolitik - expressão que aparece por volta da metade do século dezenove - descreveria numa palavra o governo de Bismarck, forjado à imagem de sua personalidade. Para Bismarck, a oratória era um tormento, mas escrevia com primor, sendo mestre nas comparações mais acertadas, na piada iluminada no momento certo, no descrever pessoas com uma palavra, normalmente com mais malícia que justiça, tinha senso de humor e habilidade de rir de si mesmo, falsa modéstia e tendência ao blefe, tanto no presente quanto retrospectivamente. Costumava dizer que o estadista pode fazer muito pouco, ao passo que em suas memórias freqüentemente arranjou as coisas para que tudo parecesse ter sido planejado e previsto por seu gênio. Sua personalidade combinava a barbárie mais crua com o maior refinamento da civilização européia e germânica. Defendia Bismarck a política da "constituição viva", mais ou menos na linha de Lassalle, que lhe foi politicamente bastante próximo. Lassalle chegou mesmo a afirmar que "os trabalhadores têm um gosto natural pela ditadura, desde que haja uma que faça algo por eles e pela comunidade". A Constituição para Bismarck era tão viva, tão vaga, que ele não apenas governou sem um orçamento, como também violou parágrafos constitucionais que nada tinham a ver com o problema orçamentário. Discursos eram feitos por parlamentares e juristas, contra o regime ilegal de Bismarck, mas discursos jamais o impressionaram. Sua personalidade não podia tolerar qualquer segundo escalão que lhe fizesse sombra. No fim da vida, somente tolerava empregados fiéis. Ele com certeza discutia, mas apenas com o intuito de fazer graça da discussão, o que causava furor nos encontros com parlamentares. Conseguiu estar sempre bem com todos os setores do reacionarismo prussiano, sem jamais identificar-se com algum deles. Jogava com idéias fixas, para barganhar, dando e recebendo em troca, como quando abriu mão de sua convicção de que os funcionários públicos não podiam fazer política, recebendo em troca que os deputados não recebessem salário, o que dificultava bastante a sobrevivência dos social-democratas. Enquanto lidava com palavras, Bismarck era um conciliador, porque ele não tinha qualquer apreço ou respeito por palavras. "Bismarck era com certeza honesto quando dizia que devia haver entendimento entre os representantes do povo e o governo. Mas era também honesto quando dizia que pretendia derrotar o parlamentarismo com o parlamentarismo, que somente permitiria um parlamento de fachada". Doutrinas, rejeitava-as com impaciência. A frase de Fernando Henrique em que pede que "esqueçam o que escrevi" enquadra-se aqui como uma luva, se não fora pelo fato de ser supérflua, porque a obra escrita que não sobrevive não depende da vontade do autor de ser lembrado. Seria mais lúcido se pedisse que também esquecêssemos dele, como pediu o último general da ditadura. Como Bismarck, Fernando Henrique foi político com gosto pelo poder, que conseguiu sobreviver sobre o edifício de um estado autoritário que não parece uma ditadura. Talvez por isso não tenha ousado, em dois mandatos, reformar a "seguridade social", como afirma ter sido projeto seu. Em lugar da ostensiva demonstração de força e violência, é essencial nesse regime a astúcia do governante em manejar um sistema de distribuição de cargos, inclusive judiciais, baseados na fidelidade ao projeto de governo. Ambos deixaram "herança". Max Weber assim descreveu a de Bismarck: "Uma monarquia autoritária deixou a Alemanha tornar-se uma nação sem qualquer espécie de educação política ... sem vontade política, acostumada a pensar que o grande estadista à frente da nação iria cuidar de todos os assuntos políticos por ela". A questão da imitação na história é sempre problemática, mas as semelhanças de Fernando Henrique Cardoso com Bismarck são notáveis. Fernando Henrique chegou ao poder por dentro do poder, como é regra em regimes autoritários. O presidente que lhe antecedeu chegou ele mesmo à presidência mais ou menos por acaso, isto é, por ser o desconhecido candidato a vice-presidente de uma chapa de "um homem só". Por ser uma personalidade da política tradicional, Itamar Franco, diversamente de Collor e de Fernando Henrique, deixara espaços abertos de poder, de modo que Fernando Henrique começou sua eleição presidencial como Ministro da Economia no governo de Itamar. Collor, ao contrário, não tinha propriamente ministros, gostava de apresentar-se ele mesmo como o Ministro da Economia. Fernando Henrique, auto-proclamado estadista, co-opta a sociedade civil através do marketing da união em torno aos projetos de consenso nacional: a modernização do país, a estabilidade do "Real". Quem não concordou com o Real foi anti-patriota, que "não pensa no Brasil", etc. Voltou à cena com facilidade o arsenal nacionalista das campanhas militares. 1989 foi um momento de possibilidades reais à esquerda. Daí compreender-se o nível mais rasteiro daquela campanha. 1994 teve um caráter plebiscitário, pois o candidato Fernando Henrique já era o "pai do real", e ninguém queria o retorno da inflação, o monstro que Collor prometera derrubar de um só golpe. 1998 mantém o caráter plebiscitário, até que 2002 repete 1989. O caráter plebiscitário das eleições de 1994 e 1998 foi fomentado também pelo cultivo, pela mídia, do mito do sucesso, em favor de Fernando Henrique, e da "nossa imagem no exterior", que respondia ao nosso complexo (coletivo) de inferioridade. A viagem para Fernando Henrique não cumpria uma agenda de política externa, que em seu governo não tinha marca registrada, mas de política interna, para cultivar a imagem de estadista de primeiro mundo, "maior que Clinton, maior que Ieltsin", como foi apresentado à época pelo Senador Simon. Quem viu Fernando Henrique, durante a campanha presidencial de 2002, encerrar sua apresentação no Parlamento francês com um patético "Vive la France", transmitido em caráter triunfal ao público brasileiro, talvez tenha opinião diversa do que seja um estadista. Mas desde que a história que nos interessa aqui também está diretamente referida ao Supremo Tribunal Federal, é preciso distinguir Collor, Itamar e Fernando Henrique. Em termos de herança negativa no Supremo Tribunal, Collor não marcou presença. Collor desconhecia a função essencial que desempenha o Supremo Tribunal Federal, tanto para impulsionar um projeto democrático como para o seu contrário, para estabelecer um projeto restaurador e anti-constitucional. Talvez jamais tenha compreendido o projeto restaurador que lhe impuseram as forças políticas que o levaram à presidência da República. Itamar Franco administrou o Estado como bom "pai de família", sem projeto político. Afinado ainda à tradição autoritária brasileira, Itamar não considerou que o Supremo Tribunal Federal fosse um local de "poder" que tenha alguma função democrática, mas um "tribunal judiciário" no qual o presidente podia encontrar uma ocupação vitalícia para os amigos, mais ou menos como um posto diplomático. O desprezo de Fernando Henrique pela Constituição é diferente porque é com muita competência negociado com as demais instituições e co-opta até mesmo o Poder Judiciário. O governo de Fernando Henrique é o primeiro governo, desde 1988 até 2002, que teve consciência da função que exerce na política moderna uma Corte Constitucional, e por isso é o único que exerceu com autoconsciência a indicação ao Supremo Tribunal Federal como um ato essencial em sua política. A diferença é que Collor e Itamar poderiam, em tese, errar nas indicações e conduzir bons ministros ao Supremo, para nossa sorte, ao passo que esse erro não seria uma expectativa razoável no governo de Fernando Henrique. Seja como for, seria apenas por milagre da natureza que o Supremo Tribunal Federal se tornaria uma Corte Constitucional, porque uma Corte Constitucional teria tornado impossíveis os governos de Collor e Fernando Henrique. VII A compreensão da história política brasileira, depois de 1988, como uma luta permanente em torno à concretização ou à destruição da Constituição exige que se compreenda o antagonismo visceral entre dois modos existenciais: o modo democrático que reconhece que a abstrata ordem jurídica é soberana, aprendendo aquela difícil arte de esquecer-se de si mesmo (mesclando aqui um pouco de Montesquieu e de Kelsen) e o modo totalitário, formulado por Carl Schmitt, que compreende a soberania no "sujeito que decide em última instância". Não é coincidência histórica que o embate entre essas duas formas existenciais se deu durante a falência da República de Weimar e a ascensão de Hitler ao poder total. Na história constitucional, o duelo entre Carl Schmitt e Hans Kelsen é muito mais significativo do que uma disputa acadêmica. A questão nuclear dessa disputa dá-se em torno à pergunta sobre "Quem deve ser o guardião da Constituição?" formulada em artigo de Kelsen, datado de 1930/1 (publicação em português em coletânea de artigos de Kelsen reunidos sob o título Jurisdição Constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Pp. 237/298). O decisionismo de Schmitt desenvolveu-se como uma construção filosófica (e não tanto jurídica) para legitimar o governo por medidas provisórias pelo Führer. O calcanhar de Aquiles da Constituição de Weimar, suas "medidas emergenciais", foi o mesmo defeito da autoria do "gênio", que possibilitou a hipertrofia executiva nos governos Collor-Fernando Henrique. O que Kelsen não viu é que o modo totalitário de Carl Schmitt não precisa estar apenas na pessoa do Führer. Ele pode estar também no "voluntarismo judicial". Visto esse decisionismo como uma conduta existencial inconstitucional, não há diferença entre a titularidade da guarda da Constituição ser entregue ao presidente do Reich (ou da República) ou a um ministro de tribunal constitucional. Se o ministro guardião for decisionista, ele moldará a Constituição - atendendo à sua soberania própria e não à de "outros" - conforme a sua própria imagem. Não faz diferença que ele dê a essa teoria de Schmitt roupagem atualizada, como "construção constitucional", ou hermenêutica do razoável e proporcional, etc. Quem abusa da soberania de outros, em prol de si mesmo, não aprendeu a arte de ser democrático: esquecer-se de si mesmo. Normalmente a pessoa que tem dificuldade em aprender a ser democrático, também não sabe conversar civilizadamente. A tendência é transformar a conversa em palco da luta entre amigo-inimigo. A insistência na capacidade de "decisão" e a idéia de que essa capacidade também pode dizer o que é "emergencial" conduzem necessariamente a uma hipertrofia da "vontade" do Chefe do Poder Executivo: a carreira de todos esses conceitos formulados por Schmitt para derrotar a República de Weimar, e re-editados no Brasil para combater a Constituição de 1988, chegou a conceber medidas emergenciais em processo civil que com mais eficácia pudessem esconder a corrupção. Logo tornou-se comédia a tentativa de Fernando Henrique de editar medida provisória, em 27/12/2000, impondo indenização de R$ 151 mil reais contra autor de ação de improbidade. O episódio faz lembrar a explicação do jovem Marx sobre o motivo de a história repetir-se, tornando o que fora tragédia uma comédia. Dizia que isso acontecia para a gente despedir-se da tragédia com alguma alegria. Só que não foi possível despedir-se de todo de Fernando Henrique, que, consciente do projeto restaurador que implementou, indicou para o Supremo Tribunal precisamente o jurista que lhe prestou serviços inconstitucionais, criando o arcabouço jurídico de seu governo, como já fizera durante o primeiro assalto de Collor à Constituição. Segundo Gilmar Mendes, o país passou por um "estado de necessidade constitucional" prolongado. O presidente tinha de decidir e não podia esperar pela 'conversa interminável do Parlamento'. A solução redentora era a de editar medidas provisórias em "legítima defesa". Como legitimação desse projeto, Gilmar Mendes surgiu na imprensa como "inquisidor do Judiciário", a quem chamou de justiceiro. A retórica autoritária, para quem não a esqueceu, normalmente opera com regras pouco civilizadas de discurso, simulando superioridade intelectual e/ou com reiterada falta de decoro. Uma conduta existencial decisionista é incompatível com a própria "idéia" de um tribunal constitucional. Como observou Kelsen, nos anos 30, a respeito de Schmitt: "Para sustentar a tese de que o presidente do Reich seria o guardião da Constituição, Schmitt tem que se voltar contra a instituição, freqüentemente reclamada e em muitos Estados também concretizada, de uma jurisdição constitucional, ou seja, contra a atribuição da função de garantia da Constituição a um tribunal independente" (Ob. Cit. P. 247). Pode-se criticar Fernando Henrique Cardoso pela vaidade ou pela desfaçatez com que se apresenta ainda hoje como um suposto "estadista internacional", mas não por inépcia. Se alguém ainda puder ser condescendente com o presidente quanto à indicação de Nelson Jobim, uma vez que Fernando Henrique podia ter sido enganado também por este, não se precisa de muita intuição para perceber que Fernando Henrique ofendeu gravemente a Constituição e o próprio Supremo Tribunal Federal ao indicar para ministro o advogado da medida provisória, Gilmar Mendes. Chegou-se a pensar que aquele "sonho constitucional" havia falecido de vez. Mesmo numa sociedade sem opinião pública muito vigorosa, como a nossa, é relevante que esta tenha sido a primeira indicação presidencial, em muitos anos, a ser publicamente criticada pela sociedade. Dalmo Dallari a impugnou abertamente, no que sobreveio a réplica do sempre aliado jurista Ives Gandra Martins, que não é célebre por sua independência intelectual, e já foi o primeiro a sair em defesa de Nelson Jobim (cf. Folha Online, Brasil, 30/10/2003, "Juristas pedem impeachment de Jobim; OAB avalia outros dois pedidos"). É aqui que se precisa formular uma compreensão melhor do que significa o duplo requisito constitucional de investidura no Supremo Tribunal. VIII A fórmula tradicional exige reputação ilibada e notório saber jurídico, mas a intuição democrático-constitucional demanda que o candidato na realidade apresente uma folha corrida de serviços prestados à causa da defesa e guarda da Constituição. Para isso se requer "independência". A fórmula pode ser traduzida como independência intelectual e independência moral. Definindo melhor, é preciso afirmar que: "independência pode significar independência relativamente aos poderes executivo e legislativo, mas também pode significar algo mais espiritual: independência de medos e rancores, interesses e a advocacia de idéias e verdades. Isto é, indiferença a tudo que não seja a justiça" (Agnes Heller, A Theory of Modernity. NY: Blackwell, 1999. pág. 202). O conhecimento jurídico notório equivale a "independência intelectual". O candidato a ministro não pode ser inepto, até porque se verá diante de um local de discussão teórica da qual terá de fazer parte, compreendendo razoavelmente o âmbito da discussão, as razões de outros, e preferencialmente, tendo acesso ao universo teórico que fundamenta a opinião de seus pares. Essa independência não tem por objetivo fazer da discussão jurídico-constitucional um palco de vaidades, mas proteger o ministro contra a retórica autoritária dos que identificam em seu saber a mística do poder. A retórica autoritária não ocorre apenas em relação ao saber teórico, mas hoje também na simulação de um saber místico adquirido na intimidade do poder (na verdade essa retórica autoritária cultiva a mística do "segredo" de todo governante autoritário). A retórica de Jobim e Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal é autoritária em sentidos diferentes. Jobim é "performático", ao passo que Gilmar Mendes faz de sua jornada no Supremo a luta pelo ideal autoritário que inspirou a medida provisória dos 151 mil reais. Ambos têm problemas com a palavra "decoro", o que é compatível com personalidades que não se treinaram na arte da conversa democrática e no respeito (verdadeiro) pelo outro. O requisito constitucional deveria assegurar que as decisões do Tribunal Constitucional fossem sérias, discutidas em sessão e não decididas fora de plenário, em conversa de bastidores ou conciliábulos, admissíveis na lógica parlamentar do "acordo de lideranças", jamais no Supremo Tribunal. Nesse diálogo civilizado em torno à melhor decisão, cada um deveria treinar-se em "esquecer-se de si mesmo" e tentar compreender a razão do outro, para eventualmente ver se não é melhor, etc. Nada disso aparece na TV Justiça. O que se vê na "Justiça em Ação" hoje é a intromissão indébita de lógicas perversas ao debate constitucional. A pior delas, por ser uma linguagem estranha ao debate judicial, é a lógica parlamentar, segundo a qual o ministro representa uma convicção e deve "lutar por ela" para derrotar o "adversário". Quem assiste à Justiça em Ação só pode concluir com uma certa tristeza que, depois de 15 anos, o Tribunal Constitucional planejado pela Constituição democrática de 1988 ainda não nasceu. Em linhas gerais, uma instituição deve possuir a autoconsciência do que ela é para poder cumprir seu ideal no tempo certo. O Supremo Tribunal Federal perdeu, logo em seguida ao comando da Constituição para que se tornasse o seu "verdadeiro guardião", a primeira grande oportunidade de afirmar-se, ao omitir-se diante do Plano Collor, que confiscou a caderneta de poupança. Hoje não se torna uma Corte de Constitucionalidade em razão da intromissão indébita de lógicas que subvertem o discurso judicial. Mas onde está a prova disso? IX O universo da jurisprudência é incomensurável. Só podemos falar do que é paradigmático. Como afirmamos que a Corte Constitucional ainda não nasceu será preciso atentar para a segunda grande oportunidade perdida: o julgamento do hábeas corpus em favor de Siegfried Ellwanger. O caso Siegfried Ellwanger é representativo dessa falta de independência espiritual, condição imprescindível à existência do Tribunal Constitucional. Parecerá surpreendente que apresentemos o "caso Ellwanger" como demonstrativo de uma falta de afeição ao requisito constitucional de independência moral. Precisaremos observar com mais atenção, nesse julgamento apresentado com certa razão pelo presidente Maurício Corrêa como um dos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, não o que foi julgado em si, mas a forma do julgamento. Em sua forma, o caso Ellwanger é paradigmático porque o modo como foi julgado anula inteiramente o valor do julgamento. O caso Ellwanger apresenta o desafio atual à independência do Poder Judiciário. O perigo já não parte apenas da intromissão indébita dos outros poderes, mas da opinião pública. No caso específico, o julgamento foi acompanhado de uma certa histeria por parte do público. Desde logo é preciso estabelecer que já não se pode imaginar que a independência do Judiciário seja tutelada pela ausência (ou censura) de manifestação pública. Na tradição da Corte, consta que certa vez o seu presidente ordenou que silenciassem os presentes, porque "não se aplaude o Supremo". Mas fora do recinto solene, sempre houve no Brasil discussão pública sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal. O que não se admite é que o Supremo procure o aplauso ou tenha temor à crítica. Não foi o que aconteceu no caso Ellwanger, que por isso tornou-se paradigma de dependência moral do Supremo Tribunal. Não seria exagero dizer que o caso Ellwanger foi julgado por "acordo de lideranças". O empréstimo dessa expressão "parlamentar" não vem ao acaso aqui. É que o discurso judicial de um colegiado é, se for prezada aquela conduta constitucional de que estamos falando, diferente do discurso parlamentar. Neste, aqueles que falam já representam particularidades e setores da sociedade, e por isso é justo e natural que o debate parlamentar não seja uma conversa desinteressada e imparcial na qual o parlamentar busca construir sua melhor opinião a partir do conhecimento das razões do adversário. O discurso parlamentar já sabe o que quer, e por isso se trata aqui normalmente de contar votos, negociar, inclusive fora do Parlamento (em gabinetes ou reuniões de lideranças) e chegar a um consenso "numérico", a partir do qual se sabe quem ganhou e quem perdeu, e o quê. Agora, aplicar essa lógica ao Poder Judiciário é algo perverso, não só porque aqui se precisa construir (ou pelo menos, em nome do decoro, "simular bem" que se está procurando construir) uma opinião que melhor defina a questão constitucional em julgamento, em termos universais, mas também porque aqueles que estiverem afinados à conduta constitucional exigível, de fato estarão interessados no que os outros pensam. Ao contrário disso, o diálogo, cuja arte é democrática, num tribunal autoritário é substituído por uma sucessão enfadonha de monólogos. Que um ministro veja no outro um "adversário" é próprio da lógica distorcida que invadiu o Supremo Tribunal. A opinião pública comentou o mérito do processo de hábeas corpus requerido em favor de Siegfried Ellwanger (HC 82.424-2), mas não percebeu a grave quebra democrática que envolveu a "forma" do julgamento. Dois votos respeitabilíssimos - dos Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto, foram rejeitados liminarmente como razões que não valia a pena sequer escutar. Parece que, na sessão em que Gilmar Mendes apresentou seu voto, o julgamento devia ser concluído, pelo menos por uma ampla maioria, no sentido contrário à impetração. A perplexidade com essa conduta transparece no voto do Ministro Marco Aurélio, ao relatar o julgamento do feito, em sua terceira sessão de julgamento (26 de junho de 2003, quando Gilmar Mendes apresentou seu voto. Já haviam votado os ministros Moreira Alves, em 12/12/2002, favoravelmente ao paciente, Maurício Corrêa, e Celso de Mello, pela denegação do hábeas, em 9/4/2003): "Na ocasião [isto é, na sessão de 26/6/2003] cheguei a pedir vista para analisar melhor a matéria, oportunidade na qual registrei: 'Senhor Presidente, se os colegas que me antecedem na votação permitirem, estimo ter vista antecipada dos autos.' Informo, desde já, que refletirei principalmente sobre um bem que acredito ser, em uma sociedade democrática, de envergadura maior, que é a liberdade de expressão, sem desconsiderar, evidentemente, os parâmetros do próprio hábeas corpus. Na assentada, após a manifestação acima, revelou o ministro Carlos Britto o desejo de pronunciar-se, de imediato, sobre o tema. A seguir, na mesma sessão, verificando a complexidade e também a envergadura da hipótese dos autos, transformou o pedido de vista em mesa em regimental. Os colegas, com exceção do ministro Sepúlveda Pertence, mesmo diante da duplicidade de pedido de vista, porque o primeiro já havia sido por mim veiculado, insistiram na continuação do julgamento, antecipando os convencimentos formados. E assim se prosseguiu, com os votos antecipados dos ministros Carlos Velloso, Nelson Jobim, Ellen Gracie e Cezar Peluso, que denegaram a ordem". (Hábeas Corpus 82.424-2 Rio Grande do Sul. Voto-vista do ministro Marco Aurélio, acórdão ainda não publicado). O que é lícito especular pela "história" desse julgamento histórico, não muito gloriosa, é que os colegas referidos pelo ministro Marco Aurélio que, "acabaram votando pelo que ouviram na própria sessão", talvez não tenham sequer votado em sessão, mas noutro local e noutro tempo. Aparentemente alguém articulou essa "vitória" triunfante no dia 26 de junho de 2003, que tornava supérflua a voz dissonante, em atropelo à regra regimental, que é a regra do discurso democrático no Tribunal Constitucional. A leitura dos votos adiantados levou horas, o que sugere que os ministros não votaram "pelo que ouviram na sessão", como com certa condescendência registrou o ministro Marco Aurélio. Não é difícil nem ilícito especular sobre quem liderou a apresentação "adiantada" de votos no caso Ellwanger, e que finalidade ela buscou. A constante quebra de ordem regimental pode aparecer como "simpática" informalidade, mas por trás dela também está um desrespeito à regra do discurso democrático. Ela deixa transparecer a idéia de que o ministro adiantado sempre defende já sua "verdade" pronta e acabada contra a qual os demais são "adversários" a derrotar. Por isso precisa estar sempre à frente, para não perder a oportunidade de votar e não permitir ficar "vencido". Na sessão em que Carlos Britto apresentou seu voto - já vencido - temos talvez uma pista de quem seja o autor da articulação, pois não foi outro senão o ministro Nelson Jobim quem desferiu, contra o ministro Britto, insinuações de cunho racista. Se as insinuações não diminuem em nada a dignidade do voto vencido de Carlos Britto, elas sugerem, da parte de Jobim, que ele não votou com independência. Resta indagar acerca da motivação da maioria apressada. O paradoxo dos paradoxos é que aqui não se precisava de nenhuma pressa. Esse costume terrível do Poder Judiciário brasileiro de "administrar" o fator tempo para que determinados processos sejam absolvidos pelo esquecimento jurídico (prescrição), não fazia sentido aqui. Ninguém precisava sacrificar a reflexão, nem deixar de amadurecer o debate, ninguém precisava atropelar a compreensão da matéria pela urgência do tempo: se confirmada a condenação, por força da Constituição, a prescrição não atingiria seus efeitos por se tratar de delito imprescritível. Se havia um caso em que nenhum pedido de vista seria meramente protelatório, mas necessário, era este. Afinal, esperava-se pelo menos que os ministros lessem as obras a ser postas no índex da proibição. Se a motivação não era nobre (evitar a prescrição) e se o atropelamento da ordem regimental com certeza retiraria a possibilidade de amadurecimento do debate de uma questão de tamanha complexidade, é lícito imaginar que a pressa em antecipar um resultado majoritário se deveu a possível falta de independência do tribunal. Será que os ministros adiantados queriam evitar especulações em torno ao julgamento, se fosse apresentado o voto do ministro Carlos Britto na obediência da ordem regimental? Ou será que não queriam ouvir o que ele tinha a dizer, porque ministro novo não fala nada relevante? Se a pressa em adiantar um resultado majoritário foi a de responder à histeria da opinião pública, como também é possível imaginar, estamos diante de uma grave demonstração de dependência moral. Se a pressa foi para colher os louros da vitória antes de sua aposentadoria, caso tenha a articulação partido do ministro-Presidente, a postura é igualmente condenável. Devia saber o ministro que "não se aplaude o Supremo", o que pode ter um sentido autoritário e outro democrático. O sentido democrático da frase significa que o Supremo não julga para a opinião pública. O julgamento, que poderia ter sido a segunda grande chance de o tribunal manifestar-se como verdadeira Corte Constitucional, foi invalidado por uma aparente articulação de bastidores e insinceridade no uso do discurso democrático. Se formos bem rigorosos, não seria uma espécie de fraude? O julgamento parece ilegítimo e quebra a expectativa da sociedade de confiabilidade no Supremo Tribunal Federal. Carlos Britto e Marco Aurélio perceberam a questão constitucional, de alta complexidade, em julgamento e a enfrentaram com independência intelectual e moral. Não foram vencedores, como os apressados. Mas é possível que tenha saído derrotada, mais uma vez, a idéia de um Tribunal Constitucional. X Assistir à "Justiça em Ação" ainda é um duríssimo "choque de realidade". A primeira reação é de constrangimento. Depois dá uma certa tristeza. E então nos damos conta de que o Supremo Tribunal Federal tem a cara do Brasil. Nas instituições políticas e judiciais brasileiras estão pessoas que nos causam constrangimento, outras que nos causam certa tristeza e pessimismo, quando chegamos a pensar que a coisa não tem mais jeito, até que - como se fora por milagre - encontramos alguns que estão na luta pela construção dessa "afeição" pela Constituição, que é o único fundamento sólido de uma democracia. Caso o Brasil ainda não esteja maduro para o impeachment do ministro Jobim, ele permanece na Suprema Corte como encarnação das piores características desse período inconstitucional de que o Brasil luta para se libertar. Como Collor, Jobim só admite vencer ou vencer. Como Fernando Henrique, na ausência de independência intelectual e moral, simula que é um estadista. A personalidade do fraudador tem um componente de auto-engano: ele ou ela sempre pensam que são muito espertos e que todos os outros somos muito otários. Cabe à opinião pública dizer que o engano é parcial: pois não queremos seguir sendo enganados. A termos de conviver com esses senhores originários do Brasil inconstitucional será preciso que eles assinem com a sociedade brasileira uma espécie de "termo de ajustamento de conduta": que pelo menos sejam mais civilizados. Que Gilmar pare de ofender, como ofende, de modo quase patológico, reiteradamente, a dignidade constitucional do Ministério Público, e por extensão, de um sem-número de pessoas que trabalham honestamente pela manutenção da ordem jurídica e constitucional. Que Jobim pare de tentar enganar, se não for por outro motivo, porque de agora em diante não será mais tão fácil. Aos seus colegas de Supremo, caso ele permaneça, o Brasil tristemente alerta para que cuidem com os "relatórios" de Jobim, porque quem engana na Constituinte engana também ao contar uma história, principalmente quando precisa sempre "vencer" no julgamento. Os que se apressam em apresentar-se como vítimas de estelionato eleitoral freqüentemente omitem uma variável importante em qualquer enganação, que é o conteúdo da esperança depositada no novo governo. Esse conteúdo não é o mesmo em relação a todo o eleitorado, e consta que muitos dos correligionários do partido vencedor hoje se mostram decepcionados porque o país não caminha para o socialismo que ainda esperam. Cada um espera uma coisa diferente. Não é todo o eleitorado que percebe o que seja ainda progresso na política pós-moderna. Objetivamente, na vida institucional brasileira, já houve progressos memoráveis. Existe uma expectativa concreta de saneamento moral do Poder Judiciário. E existe uma autoconsciência no governo de que deve implementar, nas instituições políticas de resguardo da ordem jurídica, o exato contrário do que foi implementado por Fernando Henrique Cardoso. É só nisso que Fernando Henrique Cardoso e Lula são iguais: na autoconsciência de que cada pessoa que escolhem para as instituições públicas é essencial. O ano de 2003 começou promissor. No que se refere ao Supremo Tribunal Federal, vem-se mantendo a promessa. A TV Justiça, quando entrevistou recentemente o ministro Carlos Aires de Britto, apresenta-nos pela primeira vez um novo ministro que não é ministro do velho Supremo, mas da nova Corte Constitucional. O Brasil esperou 15 anos depois da feliz "idéia" de que era necessária uma Corte Constitucional até que aparecesse um ministro que declarasse em alto e bom som a que veio. "Eu estou no Supremo para impulsionar a afeição do povo brasileiro pela sua Constituição", é mais ou menos o que declarou Carlos Britto. A frase é quase óbvia, e devia ter sido dita com sinceridade por todos os outros. Mas no Brasil da fraude o óbvio ainda é milagre. Sofremos, com a pesada herança de 14 anos de inconstitucionalidade, de um analfabetismo cívico quase crônico. O parto desse novo Supremo Tribunal não depende de medida provisória. Parafraseando Gilmar Mendes, aqui se requer "decisão", só que, evidentemente, em favor da Constituição, e não contra. Mais do que isso, precisa-se do mais difícil. Como disse Carlos Aires de Britto à TV Justiça, há que reformar a "mentalidade" das pessoas. Para encerrar essa nossa participação nesse debate com uma versão mais realista da frase de De Gaulle, que foi o mote de Clóvis Rossi para iniciá-lo, também é justo que se diga que há no Brasil muita gente séria que batalha para que o país da fraude se aposente. Ou renuncie e se retire da vida pública. De preferência, como fizera aquele outro general, da nossa ditadura, que não peça para ser lembrado. (*) Procurador da República, Mestre em Direito (UFSC) e Filosofia pela New School for Social Research, NY, EUA |
Síntese dos anexos